1968:
o ano que não acabou e não acabará
“Foi um ano muito especial. Um momento de uma
sintonia mágica, misteriosa. [...] Achava que se podia mudar tudo através da
ruptura, da revolução. A ironia da história é que eles [os jovens] não fizeram
a revolução política, mas acabaram fazendo a revolução cultural”.
(Zuenir
Ventura em entrevista à Revista Época em 2008)
Sinônimo
de rebeldia e contestação, 1968 destacou-se numa década de transformações. ''É
proibido proibir'' e ''paz e amor'' foram palavras de ordem de uma geração,
nascida em plena Guerra Fria, que viveu os ''anos rebeldes''.
Na
França, os estudantes protestaram contra as reformas educacionais, mas pediram
também maior liberdade, criticando o conservadorismo. A repressão do governo
gerou em maio as famosas ''barricadas do desejo'', particularizadas por unir
estudantes e trabalhadores, que organizaram uma greve geral.
Acordos
trabalhistas, férias e violência esvaziaram o movimento. Em junho, eleições
gerais reafirmaram a força do presidente, o general De Gaulle, mas o exemplo
francês se espalhou. Na então Tchecoslováquia, desde o início do ano, reformas
pretendiam modernizar a economia e transformar o papel do Estado. Com apoio de
intelectuais, operários e estudantes, o presidente Dubcek buscou uma via
própria e mais humanizada de socialismo.
Esse
reformismo encontrou na URSS de Brejnev o maior opositor. A fim de manter sua
hegemonia no Leste Europeu, tropas do Pacto de Varsóvia invadiram o país.
Terminava a ''Primavera de Praga'' sob repressão, mas os tchecos responderam
com indiferença. Um grafite simbolizava isso nos muros da capital: ''Circo
russo na cidade: não alimentem os animais''.
Nos
EUA, os jovens aumentaram os protestos contra a participação na Guerra do
Vietnã. A comunidade negra, frustrada com o assassinato do líder pacifista
Martin Luther King, viu adiado seu grande ''sonho''. Os radicais ganharam
espaço -Panteras Negras, Malcom X- e a questão racial continuou em aberto.
A
utopia de liberdade e felicidade em 68, no socialismo ou no capitalismo, provam
que o ''ano não terminou''.
Manifestações
estudantis em Paris, movimentos antiguerra nos Estados Unidos, a utopia pela
democracia em Praga, a luta pelo fim da ditadura no Brasil. Depois de 1968, o
mundo nunca mais foi o mesmo e, embora nada tenha ocorrido da forma esperada,
seus efeitos são sentidos até hoje
Se
o século 20, o mais movimentado da história, teve um ponto em torno do qual
transformações se concentraram como um enxame, esse momento foi certamente
1968. Foram, acima de tudo, 12 meses de ruptura.
No
planeta todo, muitos estavam empolgados (outros, horrorizados) com a
perspectiva de questionar heranças antigas e sagradas: patriotismo, coragem
militar, estrutura social e familiar, lealdades ideológicas e legados
culturais. Os que se deixaram levar pelo entusiasmo daquele ano sentiam que,
enquanto um mundo morria, outro estava nascendo. E queriam de toda forma estar
entre os parteiros.
O
que eles não perceberam de cara, no entanto, é que nem todas as mudanças
radicais estavam ao alcance da mão. Embora as relações raciais e sexuais, a
situação da mulher, a cultura e a guerra nunca mais fossem as mesmas depois de
1968, o saldo desse ano amalucado não foi propriamente uma revolução, mas uma
divisão – um abismo que talvez ainda separe as pessoas em dois campos difíceis
de reconciliar.
“O
mundo inteiro está vendo!” A chave para entender por que 1968 foi tão singular
talvez apareça nesse slogan, gritado pelos estudantes americanos que apanhavam
da polícia de Chicago durante a convenção do Partido Democrata na cidade.
O
escritor americano Mark Kurlansky, autor de 1968 – O Ano Que Abalou o Mundo,
aponta que, pela primeira vez na história, os meios de comunicação interligavam
o planeta inteiro via satélite, ao vivo. Muitos governos viam a sucessão de
protestos e rebeliões como prova de uma conspiração internacional. A explicação
verdadeira para a sincronia, porém, era bem mais simples: os manifestantes
tinham ficado sabendo uns dos outros pela TV.
A
televisão, no entanto, era só um catalisador, diz Kurlansky. “Se eu tivesse que
escolher um único fator como aquele que influenciou a geração de 1968, seria a
Segunda Guerra Mundial, a qual, por sua vez, gerou a Guerra Fria”, diz. “Minha
geração rejeitou a visão de um mundo dividido por duas superpotências armadas
até os dentes.
Isso
significa que 1968 foi diferente de 1967 ou 1969 por representar um crescendo
dramático de acontecimentos, que começaram antes desse ano e continuaram depois
dele.” Sua geração era a dos baby-boomers, jovens nascidos após o fim da
Segunda Guerra, na maior explosão demográfica já ocorrida no Ocidente (o baby
boom). Seus filhos – 75 milhões de pessoas só nos Estados Unidos –
beneficiaram-se da prosperidade econômica nos Estados Unidos e na Europa
Ocidental, tornando-se a geração mais bem educada e rica de seus países natais.
Nunca
tantos jovens tinham ido parar na universidade de uma vez só. Possuíam,
portanto, condições ideais para consumir novos tipos de cultura de massa,
formação para discutir política e interesse em levar uma vida diferente da de
seus pais.
Como
diz o jornalista Zuenir Ventura em seu livro 1968 – O Que Fizemos de Nós, é
possível que no século 20 tenha havido outro ano igual ou mais importante que
1968. Mas nenhum foi tão discutido. Nas próximas páginas, os eventos mais
marcantes do ano e a análise de especialistas sobre suas conseqüências no mundo
atual.
30 de Janeiro
Hora de parar: Com a
Ofensiva do Tet, americanos exigem o fim da Guerra do Vietnã
Pode-se
dizer que 1968 começou para valer nos Estados Unidos em 30 de janeiro. A data
marca o Tet, o início do Ano Novo lunar vietnamita, escolhido pelos
guerrilheiros comunistas viet-congues para o início de uma ofensiva suicida
contra o Vietnã do Sul e seu aliado ocidental, os Estados Unidos.
Com
apenas 70 mil soldados (contra meio milhão de homens só entre as forças
americanas), os vietcongues invadiram a embaixada americana em Saigon e
ocuparam dezenas de cidades em nome do Vietnã do Norte, controlado pelos
comunistas – ao todo, os ataques vietcongues atingiram 36 cidades do sul do
Vietnã entre 30 de janeiro de 1968 e junho do ano seguinte. A embaixada dos
Estados Unidos foi retomada depois de um combate curto, mas bastante sangrento.
Como
o poder bélico americano era infinitamente mais forte do que o dos comunistas,
as cidades ocupadas foram retomadas em poucos dias. O Vietnã do Norte operava
uma guerra de guerrilha, com ataques-surpresa e túneis subterrâneos, por onde
os vietcongues movimentavam-se e transportavam materiais sem serem notados. Muitos
soldados usavam nos combates facas caseiras, mas a China e a União Soviética,
que apoiavam os comunistas, providenciaram também para os guerrilheiros
submetralhadoras AK-47 e mísseis com capacidade para derrubar helicópteros.
Após
a Ofensiva do Tet, os viet-congues perderam tantos homens que, na prática,
deixaram de existir como força de combate independente. Não que isso tenha
importado muito: a ofensiva foi, para os comunistas, uma vitória de propaganda
estrondosa.
A
imprensa ocidental mostrou soldados americanos com aparência desorientada,
morrendo aos montes, além de revelar imagens chocantes de guerrilheiros
capturados e desarmados sendo mortos com tiros na cabeça. Foi o suficiente para
que o movimento contra a guerra ganhasse força. Por isso, a Ofensiva de Tet é
considerada pelos especialistas o começo da derrota americana na Guerra do
Vietnã.
O
início do movimento que culminou nos protestos antiguerra nos Estados Unidos
foi pequeno, tímido, apoiando-se na base da esquerda do fim dos anos 50 e começo
dos 60, que incluía os movimentos pelos direitos civis e trabalhistas. Isso
significa que, quando amadureceu, a coalizão antiguerra passou a incluir os
grupos que defendiam igualdade racial e justiça social (não por acaso, já que
americanos negros e pobres eram os mais atingidos pelo recrutamento compulsório
para o Vietnã), bem como estudantes universitários que atingiam a idade
militar.
Alguns
especialistas acreditam que a oposição maciça dos jovens à guerra também possa
ter vindo de uma sensação generalizada de impotência. As instituições nas quais
a juventude estava inserida (como universidades, igrejas e até mesmo locais de
trabalho) eram muito mais hierarquizadas do que atualmente. A idade mínima para
votar nas eleições dos Estados Unidos, por exemplo, era de 21 anos (só cairia
para 18 em 1971), embora com três anos menos os jovens de sexo masculino já
estivessem aptos a lutar na guerra.
A
oposição à luta no Vietnã mobilizou os campi das principais universidades do
país, levando à invasão de prédios e ao cerco a instalações universitárias que
faziam pesquisa militar. Alguns jovens em idade de servir às Forças Armadas
preferiam ir para a cadeia a serem mandados para o Sudeste Asiático, enquanto
outros se dispunham a cruzar a fronteira canadense para escapar – muitos deles
acabariam tornando-se cidadãos canadenses e nunca mais voltariam aos Estados
Unidos.
Os
mais extremistas passaram a ver os vietnamitas como heróis e a demonizar as
forças americanas, pintadas como assassinas imperialistas. Os manifestantes
gritavam slogans nos protestos com rimas: “Hell, no, we won’t go!” (Diabos,
não, nós não vamos!) ou “Ho, Ho, Ho Chi Minh, NLF is gonna win” (Ho, Ho, Ho Chi
Minh, os vietcongues vão vencer), referido-se a Ho Chi Minh, o líder dos
comunistas.
Após
a Ofensiva do Tet, as forças americanas, sentindo-se acuadas por um inimigo que
parecia suicida ao extremo, acabaram também perdendo o autocontrole em várias
ocasiões, atacando sem remorso a população civil do país. A mais emblemática
dessas explosões foi o massacre de My Lai, em que 504 aldeões do vilarejo de
mesmo nome, mesmo desarmados e sem abrigar guerrilheiros, foram mortos a sangue
frio por ordem expressa de oficiais americanos. Episódios assim só faziam a
antipatia da população em relação ao conflito crescer.
Os
Estados Unidos só sairiam da guerra travada no Sudeste Asiático em 1973, após
anos de conflito entre manifestantes e a polícia e dezenas de milhares de
mortes de soldados dos dois lados (a Guerra do Vietnã, porém, acabaria mesmo
dois anos mais tarde). Também em 1973, os americanos acabaram com a convocação
compulsória para o serviço militar e transformaram suas Forças Armadas numa
estrutura totalmente voluntária.
Assim,
de uma vez só, o governo americano atendeu às demandas do movimento antiguerra
e enfraqueceu a futura oposição interna a conflitos, já que os universitários
americanos de classe média não eram mais forçados a participar deles. Muitos
pesquisadores acreditam que esse tenha sido provavelmente o principal motivo
pelo qual não há uma oposição de massa contra a guerra no Iraque hoje.
Post-scriptum:
Desilusão com as instituições
"A
Ofensiva do Tet teve um impacto importante na opinião pública americana – foi
vista (e continua sendo) como o começo da virada. O episódio convenceu muitos
moderados de que a guerra era invencível. Era a hora de questionar os
relatórios oficiais do governo sobre a guerra. A falta de confiança no governo
não provocou – mas certamente ampliou – a tendência ao ceticismo e à desilusão
com as instituições do Estado que caracteriza tanto a esquerda quanto a direita
americanas até hoje. Está absolutamente claro que o fim da Guerra do Vietnã
mudou substancialmente a imagem dos militares pelos americanos, assim como as
relações entre os cidadãos e as Forças Armadas. Os militares passaram a não
mais refletir os valores culturais dos Estados Unidos como um todo, tornando-se
muito mais cristãos e muito mais republicanos que o resto do país. Os
participantes dos movimentos antiguerra trilharam caminhos diferentes. Os da
esquerda ficaram mais pacifistas. Os moderados aprenderam a evitar intervenções
internacionais. Já os conservadores concluíram que essa postura poderia
enfraquecer e limitar a habilidade dos militares de agir no exterior e
caminharam no sentido de isolar o militarismo da opinião pública."
Chris
Capozzola é historiador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e
especialista em Guerra do Vietnã.
4 de Abril
Morte do herói: Sem
Martin Luther King, movimento negro americano ficou menos pacifista
Depois
de hesitar muito, o maior líder negro americano, Martin Luther King, abraçara a
luta contra a Guerra do Vietnã. A causa da dúvida era o medo de que os negros
americanos fossem acusados de antipatrióticos. Sobre o conflito, King dissera:
“Precisamos deixar claro que não toleraremos mais, não votaremos mais em homens
que continuam a considerar as mortes de vietnamitas e americanos como a melhor
maneira de promover a liberdade e a autodeterminação no Sudeste Asiático”.
A
luta dele contra o racismo começara havia mais de 15 anos. Já nos anos 50 o
pastor batista estava engajado em movimentos pelos direitos dos negros. Em sua
trajetória, elaborou discursos belíssimos e conseguiu que fosse aprovada a Lei
dos Direitos Civis (em 1963), que transformava a legislação segregacionista
americana em algo inconstitucional, e, em 1965, que os negros tivessem direito
ao voto. Ao mesmo tempo, recebia ameaças de morte, era perseguido pelo FBI e
sofria de depressão.
Em
1965, King já tentara se engajar na luta pelo fim da Guerra do Vietnã, mas foi
atacado por amigos e oposição, que não queriam que ele se metesse nessa briga.
Mas, em 1968, King combinou a luta contra o racismo com o ativismo contra a
guerra e as desigualdades sociais. O pastor tinha ido para Memphis, no Tennessee,
em 4 de abril, para apoiar uma greve de lixeiros. Desiludido com o sonho de um
país mais justo e com direitos iguais, começou a escrever o discurso “Por que a
América deve ir para o inferno”. Com o sermão inacabado, conversava na sacada
do Lorraine Motel quando levou um tiro no pescoço, às 18h01. Morreu uma hora
depois, no hospital. O assassino, o branco James Earl Ray, foi preso dois meses
depois, mas o crime nunca foi esclarecido.
O
movimento que tinha em Martin Luther King Jr. seu grande ídolo já estava
rachando havia pelo menos dois anos. Outros líderes, como Stokely Carmichael,
um intelectual radical nascido em Trinidad e Tobago, estavam falando em “Poder
Negro” e estruturando o grupo rebelde dos Panteras Negras, deixando de lado a
ideologia não-violenta do pastor King e buscando o confronto com o governo e
com os brancos. “Agora que levaram o doutor King, está na hora de acabar com
essa merda de não-violência”, desabafou Carmichael, depois daquele 4 de abril.
Os
líderes dos Panteras Negras não pegavam leve. Os mais moderados exigiam o
ensino da história dos negros americanos e de suas lutas políticas em escolas e
universidades. Os radicais defendiam uma espécie de nacionalismo negro, no qual
os afro-americanos tomavam o poder que lhes havia sido negado – embora ninguém
dissesse exatamente qual “Estado” seria criado no lugar dos Estados Unidos
“branco”.
Nessa
onda de radicalismo, os defensores do Poder Negro tentavam encontrar a arte, a
moda e até os cortes de cabelo genuinamente africanos. Ao lado dessas
preocupações quase sempre inofensivas, alguns intelectuais do movimento
defendiam a criação de organizações paramilitares e até o estupro de mulheres
brancas (uma forma de revidar os séculos de dominação sexual exercida pelos
homens brancos sobre mulheres negras). Ao mesmo tempo, os Panteras Negras
exigiam que os afro-americanos ficassem isentos do serviço militar – afinal,
não teriam razões para lutar por um país que os oprimia. É claro que os
recrutadores não engoliram a idéia.
Apesar
dos confrontos raciais que se seguiram em muitas das principais cidades
americanas, e da repressão muitas vezes brutal da polícia, a ação de Martin
Luther King e seus companheiros acabou revertendo de vez a segregação racial
institucionalizada nos Estados Unidos. A política de ação afirmativa nas
universidades criou uma classe média negra relativamente rica e poderosa.
Embora haja tensão racial difusa nas grandes metrópoles americanas, pode-se
dizer que é graças aos acontecimentos de 1968 que o negro Barack Obama é hoje
um dos principais candidatos a presidente dos Estados Unidos.
Convenções Desafiadas
- Fatos que marcaram a cultura em 1968
•
Jimi Hendrix lança, em 10 de janeiro, seu segundo disco, Axis: Bold as Love
•
Na Índia, em fevereiro, os Beatles encontram Maharishi Mahesh Yogi e
popularizam a técnica da meditação
•
Em 6 de abril, Stanley Kubrick lança o clássico da ficção científica 2001, Uma
Odisséia no Espaço
•
Também em abril estréia o musical hippie Hair, na Brodway, com nudez e apologia
às drogas
•
Em maio, estréia no Brasil O Bandido da Luz Vermelha, marco do cinema marginal
•
Após recusar um roteiro da feminista Valerie Solanas, Andy Warhol leva um tiro
dela e é internado
•
Em julho, radicais de direita espancam atores da peça Roda Viva, de Chico
Buarque
•
No mesmo mês, chega ao mercado o disco Tropicália ou Panis et Circensis, com
uma mistura de ritmos
•
Em 7 de setembro, mulheres protestam em pleno concurso de Miss Estados Unidos
•
Em setembro, Geraldo Vandré é preso após cantar “Pra Não Dizer Que Não Falei
das Flores” no Festival Internacional da Canção da TV Globo
•
Ainda no mesmo mês, Caetano Veloso é vaiado no Festival ao cantar “É Proibido
Proibir” e diz que o povo não estava entendendo nada
•
Estranhamente, os Beatles e seu White Album, lançado em novembro, pediam
moderação
Post-scriptum:
Inspiração para mudanças radicais
"1968
foi um ano em que uma geração de estudantes e trabalhadores nascidos durante e
imediatamente após a Segunda Guerra desafiaram o status quo no mundo da Guerra
Fria – particularmente as universidades, a polícia e o Exército. Estudantes
negros abraçaram o orgulho racial e figuras separatistas ou militantes
anti-racismo como Malcolm X e Martin Luther King. A geração de 68 que hoje
ocupa importantes cargos em universidades, governos, partidos políticos,
literatura e indústria do entretenimento seria provavelmente muito menos
inspirada a devotar suas vidas e seus sonhos a mudanças radicais se 1968 não
tivesse existido. O assassinato de Martin Luther King foi um colapso terrível.
Ele era um homem carismático, indiscutivelmente um dos líderes mais radicais
que vimos no século 20. A desilusão que se seguiu a sua morte causou danos
incalculáveis às esperanças que aquela geração tinha de ver tempos melhores.
Hoje, Barack Obama é apresentado como representante da nova geração e daqueles
que desejam transcender as ácidas divisões raciais, culturais e políticas que
herdamos dos anos 60 – divisões que Reagan e os Bush exploraram para
desacreditar o liberalismo e as questões raciais daquela década. Mas eu
acredito que o apelo de Obama é estruturado em alguns daqueles grandes desejos
de 1968, apesar de ele expressá-los em termos muito patrióticos – termos que
eram rejeitados em 1968."
James
Green é historiador da Universidade de Yale especializado em movimentos civis
da década de 1960.
15 de Maio
Barricadas francesas:
Manifestações estudantis de maio pretendiam tirar De Gaulle do poder
Charles
de Gaulle, o presidente da França na época, deve ter mordido a língua infinitas
vezes depois de declarar “saúdo o ano de 1968 com serenidade” em seu discurso
de Ano Novo à nação. Serenidade era tudo o que a França não teria naquele ano.
As manifestações no país começaram já em janeiro por motivos relativamente
banais, ligados à falta de voz dos estudantes nas universidades e à exigência
de dormitórios mistos na Universidade de Nanterre, no subúrbio de Paris. No
entanto, a reação brutal da polícia aos protestos fez os universitários ficarem
cada vez mais irredutíveis, sob a batuta de líderes como Daniel Cohn-Bendit, ou
“Dany, o Vermelho” (por causa do cabelo ruivo, já que ele estava longe de ser
comunista).
Cohn-Bendit
dominava dois grandes talentos da geração de 1968: língua afiada e respeito
zero pela autoridade. Em um dos primeiros protestos, teria pedido ao ministro
da Juventude, enviado ao local para negociar com os estudantes, que acendesse
seu cigarro. Em seguida, disparou: “Senhor ministro, li seu informe sobre a
juventude. Em 300 páginas, não há uma só palavra sobre questões sexuais”. O
ministro, tentando ser divertido, respondeu que não era de admirar que um
sujeito feio como Dany estivesse preocupado com essas coisas. A tréplica veio
fulminante: “Ora, aí está uma resposta digna do ministro da Juventude de
Hitler”.
Esse
era o estilo de Cohn-Bendit e companhia, que, mais do que apenas reivindicações
políticas, queriam que a conservadora sociedade francesa fosse renovada de cima
a baixo. Não é à toa que os rebeldes franceses de 1968 estão entre os melhores
criadores de slogans revolucionários da história. Entre eles: “Decreto um
permanente estado de felicidade”, “Sou marxista da facção do Groucho” (em
referência ao comediante Groucho Marx, e não ao filósofo e crítico ferrenho do
capitalismo Karl Marx), “A imaginação toma o poder”. Uma pichação famosa da
época mostra a sombra de Charles de Gaulle amordaçando um rapaz, com os
dizeres: “Seja jovem e cale a boca”.
No
mês de maio as coisas ficaram mais pesadas. Em poucos dias, as exigências dos
estudantes passaram a encampar a renúncia de Charles de Gaulle (que
representava a França conservadora odiada por eles) e eleições gerais. Dia após
dia, Paris era palco de combates intermitentes entre a polícia e os
manifestantes, armados de pedras – quase todas retiradas do calçamento do
charmoso bairro estudantil, o Quartier Latin – e coquetéis molotov. Barricadas
eram preparadas diariamente nas ruas, atrás das quais os manifestantes se
entrincheiravam. Num dos episódios mais violentos, na noite de 24 de maio, a
polícia respondeu às pedradas com bombas de gás lacrimogênio e muita
pancadaria.
Os
conflitos trouxeram à tona algumas das piores divisões internas da França, como
o fantasma do anti-semitismo. Cohn-Bendit e outros líderes revoltosos eram
judeus. O primeiro teve de ouvir de um policial: “Amiguinho, você vai pagar.
Uma pena não ter morrido em Auschwitz com seus pais, porque isso nos livraria
do aborrecimento de fazer o que faremos agora”.
Uma
greve geral em apoio aos estudantes, iniciada em 18 de maio, levou cerca de 10
milhões de pessoas a cruzarem os braços por três dias – nenhuma revolta juntou
tanta gente na história. O presidente francês chegou a se refugiar numa base
militar na Alemanha, mas retomou o controle ao oferecer um aumento de 35% no
salário mínimo (um bom jeito de fazer os operários abandonarem os estudantes) e
convocar eleições legislativas gerais às pressas. “Os operários e os
estudantes, no fundo, nunca estiveram juntos”, disse mais tarde Cohn-Bendit.
“Os operários queriam uma reforma radical das fábricas. Os estudantes queriam
uma mudança radical de vida.”
Nas
eleições organizadas por Charles de Gaulle, os partidários do presidente, visto
no fim das contas como alguém que conseguira restabelecer a paz, acabaram
vencendo – e os protestos estudantis, assim, se esgotaram, com as últimas
universidades desocupadas pelos manifestantes em meados de junho. Muitos dos
estudantes foram imediatamente convidados a escrever livros relatando sua breve
experiência revolucionária. Cohn-Bendit, que tinha dupla nacionalidade
(francesa e alemã), foi expulso do país e mudou-se para a Alemanha. Só teve
permissão para voltar à França dez anos mais tarde.
Post-scriptum: Não
existe um pensamento único
"Não
há um pensamento de Maio de 68, mas uma nebulosa de correntes. A crítica de 68
se deslocou em três vertentes intelectuais e políticas. A primeira é a do
retorno do liberalismo, que se desenvolveu no fim dos anos 70. Mas as duas
correntes liberais na França são opostas a 68. De um lado, há uma corrente
liberal libertária, cujo discurso, em geral, diz que em 68 há um certo número
de coisas a recuperar: a fragilização de formas verticais de autoridade, o
enfraquecimento do Estado central, a crítica do gaulismo. Uma outra linha neoconservadora,
muito mais crítica frente a Maio de 68, é mais ligada ao quadro tradicional da
sociedade. Houve ainda uma crítica forte do Partido Comunista Francês, visando
não o movimento operário de 68, mas sim contra o 68 estudantil. Além disso, no
ano passado Daniel Cohn-Bendit fez comentários após declarações do então
candidato à presidência Nicolas Sarkozy, que criticou o movimento. Cohn-Bendit
cometeu uma falta política ao dizer que passear no iate de um magnata e
desfilar com uma top model (a mulher de Sarkozy, a terceira, é ex-modelo e
cantora) seria um comportamento da geração de 68. Esse é o discurso anti-68, o
mais tolo. Porque não creio que o ideal de Maio de 68 é o de se exibir ao lado
de uma modelo."
Serge
Audier é mestre em Filosofia Moral e Política na Universidade de Sorbonne e
autor do livro La Pensée Anti-68 (“O pensamento anti-68”, inédito em
português).
5 de Junho
Carisma
nas eleições: Assassinato do senador Robert Kennedy levou conservador Nixon à
presidência
Época
de eleições presidenciais nos Estados Unidos. O ocupante da Casa Branca, Lyndon
Johnson, do Partido Democrata, era o favorito até anunciar, em 31 de março, que
não tentaria a reeleição. As primárias democratas viraram, então, um duelo
entre dois candidatos contra a Guerra do Vietnã: o cerebral Eugene McCarthy e o
carismático senador Robert Kennedy, irmão do presidente assassinado John
Kennedy.
Além
da mítica dos Kennedy, Bobby tinha a seu lado um programa reformista que, ao
menos como promessa de campanha, encampava exigências do movimento negro e dava
prioridade à população carente e ao ataque à desigualdade social. Era um
católico fervoroso que levava a proibição do uso de anticoncepcionais tão à
risca que teve 11 filhos com a mulher, Ethel, mas usava a doutrina social da Igreja
como forma de conclamar os americanos a acabar com a exploração econômica no
país.
Com
apenas 42 anos, Kennedy conseguia empolgar até os estudantes revolucionários
com seu discurso idealista, que criticava a obsessão dos Estados Unidos com o
crescimento econômico a qualquer custo. Dá para imaginar, por exemplo, George
W. Bush dizendo que o PIB é menos importante do que parece? Pois foi o que
Bobby afirmou em um de seus mais famosos discursos: “Não encontraremos nem um
propósito nacional nem satisfação pessoal numa mera continuação do progresso
econômico. Não podemos medir a realização nacional pelo Produto Interno Bruto.
Pois o PIB (...) cresce com a produção de napalm, mísseis e ogivas nucleares.
Ele mede tudo, em suma, menos o que torna a vida digna de ser vivida”.
Não
dá para saber se essa retórica iria transformar-se em ação, mas Bobby parecia
apoiar suas palavras com atos simbólicos, colocando-se ao lado de Martin Luther
King ou dos trabalhadores rurais de origem mexicana que lutavam por melhores salários
e condições de trabalho na Califórnia. Quando King foi assassinado, Bobby fez
um discurso emocionado em homenagem ao líder negro, pedindo união e compaixão
para os americanos. Indianápolis, a cidade onde ele estava nesse dia,
coincidência ou não, não sofreu com depredações feitas pela população negra que
se seguiram ao crime, como outras metrópoles americanas.
Mas,
antes que sua plataforma pudesse ser testada, Bobby Kennedy, após vencer as
primárias na Califórnia, morreu com os tiros disparados pelo palestino Sirhan
Sirhan, que tinha raiva do apoio do candidato a Israel, no Hotel Ambassador, em
Los Angeles, em 5 de junho. Tanto Kennedy quanto McCarthy haviam prometido
acabar com a Guerra no Vietnã se eleitos. Com Bobby morto e McCarthy sem
coragem para continuar sua campanha para valer, a oposição estudantil ao
conflito ficou politicamente órfã – e acabou tornando-se mais radical, disposta
a bagunçar o processo eleitoral americano.
Foi
nesse clima que milhares de jovens se reuniram em Chicago para protestar
durante a convenção do Partido Democrata, entre 26 e 29 de agosto. Os
manifestantes, entre outras coisas, quiseram indicar “Mister Pigasus”, um
porco, como candidato a presidente e plantaram uma bandeira dos vietcongues no
parque da cidade. As provocações levaram a polícia a descer o sarrafo em todos
os que se encontravam nas ruas, bem diante das câmeras de TV. No fim das
contas, os democratas indicaram o vice-presidente Hubert Humphrey como
candidato. Humphrey foi vencido pelo republicano Richard Nixon, cuja campanha
apelava para a “maioria silenciosa” de americanos que via os manifestantes como
baderneiros antipatrióticos. A campanha de 1968 acabou com o domínio dos
democratas e dos liberais na política americana. Depois daquele ano, dos sete
presidentes americanos, só dois seriam democratas: Jimmy Carter e Bill Clinton.
Feitos em órbita
Os
acontecimentos que marcaram a ciência e o esporte
•
Christiaan Barnard realiza o primeiro transplante bem-sucedido do coração em 2
de janeiro na África do Sul
•
No mesmo mês, a IBM anuncia mais velocidade na memória cache, componente do PC
que processa informações
•
O boxeador Muhammad Ali recusa-se a se alistar para lutar no Vietnã
•
A primeira ligação para o sistema de emergência 911 é feita em fevereiro
•
Em 24 de agosto, a França torna-se a quinta potência a explodir a bomba de
hidrogênio
•
O primeiro caixa eletrônico de banco moderno é criado em 20 de setembro por um
americano. Além de disponibilizar dinheiro, o equipamento fornecia extrato e
transferia quantias
•
A fabricante de aviões Boeing apresenta em público pela primeira vez, em
setembro, o 747-100, o Jumbo
•
Às 11h02 de 11 de outubro, é lançada a Apollo 7, a primeira missão tripulada do
projeto Apollo da Nasa
•
Nas Olimpíadas do México, em 15 de outubro, dois atletas negros, Tommie Smith e
John Carlos, vestem luvas pretas no pódio para receber suas medalhas e levantam
os punhos cerrados do movimento dos Panteras Negras
•
Na véspera de Natal, a nave Apollo 8 e seus tripulantes, os americanos Frank
Borman, Jim Lovell e William A. Anders, tornaram-se os primeiros a entrar na
órbita da Lua e ver seu lado oculto o satélite natural da Terra. Os três se
revezaram lendo em voz alta os dez primeiros versículos do Gênese, o relato da
criação do mundo na Bíblia
Post-scriptum: É
proibido sonhar
"Quarenta
anos depois da morte de Robert Kennedy, nós temos uma dívida interna enorme
(cerca de 9,8 trilhões de dólares), uma ocupação debilitada em um país árabe,
déficits monetários escancarados com o resto do mundo, um problema econômico
devido à desregulação e à privatização descuidadas e um governo que parece não
querer ou não conseguir enfrentar nenhuma das nações que mais insistem em
causar problemas. Toda essa inaptidão e corrupção parecem ser naturais sob o
regime dos republicanos porque a direita nunca realmente acreditou no poder do
governo em fazer nada positivo. Baby-boomers como George W. Bush, que estavam
balançando a bandeira americana quando a maior parte de sua geração protestava
contra a guerra, criaram a pior bagunça para a nação desde pelo menos a Guerra
Civil. Há uma relativa calma em 2008, mesmo com uma guerra no exterior nada
popular, porque a cínica marca política conservadora de dividir-e-conquistar
desmoralizou possíveis idealistas. ‘O idealismo está morto’, dizem os
republicanos em uníssono. Melhor empilhar bens materiais e ser consumidores
obedientes que agir como cidadãos politicamente engajados. Pelo menos em 1968
os jovens tinham esperança e podiam sonhar com um planeta e com um futuro
melhor. Não dá para ignorar o estrago ao país feito pelos ‘heróis
conservadores’."
Joseph
Palermo é historiador da Cornell University e autor de Robert F. Kennedy and
the Death of American Idealism (“Robert F. Kennedy e a morte do idealismo
americano”).
20 de Agosto
Primavera cancelada:
Tentativa de democratizar o comunismo fez Praga ser invadida
Um
dirigente tímido e afável tornou-se, em 5 de janeiro de 1968,
primeiro-secretário do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Seu nome era
Alexander Dubcek, e ele ficaria conhecido como o arquiteto da Primavera de
Praga – uma tentativa corajosa, mas ingênua, de criar uma sociedade comunista e
democrática ao mesmo tempo, espécie de “desestalinização” do sistema que
predominava no país.
Dubcek
vinha de uma família de entusiastas idealistas do socialismo e tinha até morado
com os pais no território do atual Quirguistão, então o recanto mais atrasado
da União Soviética, como prova da disposição da família em colaborar com o
comunismo. Por tudo isso, Dubcek achava que suas credenciais pró-Rússia eram
impecáveis e que os dirigentes da superpotência comunista jamais pensariam que
ele fosse um traidor do socialismo.
Perto
dos cidadãos de outros países comunistas da Europa Oriental, tchecos e
eslovacos sofriam menos com a censura da imprensa, tinham mais liberdade
artística e conseguiam viajar ao Ocidente com mais facilidade. Não era difícil
encontrar jovens cabeludos e barbudos, fumando maconha e ouvindo Beatles, nas
ruas de Praga.
Essa
liberalização incipiente gerou um apetite por mais reformas, e o
primeiro-secretário se dispôs a responder a ele. “Dubcek decidira fazer uma
reforma profunda na estrutura política do país, com a intenção de remover todos
os vestígios do autoritarismo que ele considerava uma aberração no sistema
socialista”, escrevem Regina Zappa e Ernesto Soto, autores do recém-lançado
1968 – Eles Só Queriam Mudar o Mundo. Sob Dubcek, a imprensa se tornou a mais
livre de todo o bloco soviético, com reportagens denunciando a corrupção de
antigos líderes do Partido Comunista e vários correspondentes ocidentais
circulando pela capital, Praga. Foram traçados planos para estabelecer o
multipartidarismo e para dar autonomia aos eslovacos, a etnia de Dubcek.
A
União Soviética, no entanto, não gostou nada daquilo. Dubcek sempre jurou
lealdade aos russos, mas ficava no fogo cruzado entre os aliados poderosos e
seu povo, cada vez mais apressado em suas exigências de mudança. “Por que fazem
isso comigo? Não percebem quanto dano me causam?”, queixou-se ele a um companheiro
de governo, referindo-se à pressão exercida pelos tchecoslovacos. Em agosto, a
tensão acabou dando lugar ao confronto: forças soviéticas invadiram a
Tchecoslováquia. Dubcek recebeu a notícia chorando de incredulidade. “É uma
tragédia. Não esperava que isso pudesse acontecer. Dediquei toda a minha vida à
cooperação com a União Soviética e fizeram isso comigo”, disse à chefia do
Partido Comunista tcheco.
A
população do país tentou resistir de forma não-violenta, deitando-se na frente
de tanques, escrevendo frases provocativas nas paredes (“O circo russo chegou à
cidade. Não alimente os animais”) e transmitindo ao mundo, por rádio, o que
estava acontecendo.
Dezenas
de estudantes e cidadãos comuns que eram a favor das reformas se arriscaram a
lançar coquetéis molotov nos veículos blindados russos, sendo sumariamente
fuzilados – ao todo, foram 72 mortos e 702 feridos. Outros, ingenuamente,
tentavam argumentar com os soldados invasores e convencê-los de que deveriam
voltar para casa. Até países comunistas que andavam se distanciando da
influência da União Soviética, como a Iugoslávia e a Romênia, condenaram a
invasão de uma nação aliada dos soviéticos.
Não
adiantou: os russos e os quatro países que os apoiavam na invasão mantiveram a
pressão e levaram toda a cúpula do Partido Comunista tchecoslovaco para Moscou.
A desculpa oficial era uma negociação. Mas, na prática, os russos colocaram os
“aliados” em prisão domiciliar e chantagearam os dirigentes do país para que
eles repudiassem publicamente as reformas.
A
União Soviética, no entanto, não tinha levado em conta a teimosia quase
inabalável dos tchecoslovacos. Mesmo com o país ocupado, o presidente Ludvik
Svoboda recusava-se a assinar um documento apoiando oficialmente a invasão
orquestrada pelos soviéticos. Comunista da velha guarda, Svoboda estava
convencido de que seria possível chegar a um acordo se a chefia soviética
topase sentar-se à mesa com os que haviam sido um dia seus aliados.
Dubcek
e companhia mostraram-se duros na queda e ousaram defender as reformas diante
do líder soviético Leonid Brezhnev. É claro que foram vencidos e forçados a
desfazer a Primavera de Praga (que já tinha esse nome na época basicamente
porque durou toda a primavera do Hemisfério Norte). Mas saíram de Moscou com
duas conquistas importantes: seus pescoços ainda estavam intactos e não houve
expurgo assassino na Tchecoslováquia.
Post-scriptum: Começo
do fim do comunismo
"A
Primavera de Praga pertence ao principal ponto de referência da história
moderna tcheca. Muitos dos participantes do movimento político foram excluídos
da sociedade. Eles estabeleceram milícias dissidentes, promoveram os direitos
humanos e organizaram movimentos civis nos anos 70 e 80. Seus representantes
estiveram envolvidos em diversas ações a partir daí, como o processo de
democratização no começo dos anos 90. Mas eles ficaram sob fogo e foram
substituídos pela geração mais nova de recentes pragmáticos comunistas e
tecnocratas. Nos últimos anos, a possível base do plano de Defesa Nacional de
Mísseis dos Estados Unidos passou a ser comparada à ocupação soviética após
1968. A Primavera de Praga de 1968 representa a parte integral do
desenvolvimento da sociedade civil transnacional e da transformação da esfera
pública no século 20. A invasão das tropas soviéticas na Tchecoslováquia
definitivamente dividiu o movimento comunista mundial e emancipou partidos de
esquerda específicos da supervisão de Moscou. Um dos mais importantes marcos
foi quando Mikhail Gorbachev discutiu os objetivos da reforma perestroika na Rússia
em 1987 – que, em comparação com a Primavera de Praga, estava 20 anos
atrasada."
Zdenek
Nebrensky é historiador formado pela Charles University, de Praga, na atual
República Tcheca, e especialista em movimentos estudantis dos anos 60.
26 de Junho
Ditadura escancarada:
Greves generalizadas e ações da esquerda marcaram o ano do AI-5
A
situação esquizofrênica do Brasil em 1968 fazia do país uma verdadeira
bomba-relógio. Como quase todos os países ocidentais, havia por aqui uma
população estudantil numerosa, que abraçara o ativismo político radical. Do
outro lado, havia o governo de uma ditadura militar, um inimigo arquetípico que
precisava ser derrubado. Por isso, a repercussão de cada confronto era cada vez
mais virulenta e sombria.
Alguns
grupos de esquerda no país já tinham decidido que a oposição democrática não
era mais viável e partiram para a guerrilha urbana. Numa das ações mais ousadas
daquele ano, integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária invadiram um
hospital militar de São Paulo em 22 de junho e, quatro dias depois, carregaram
uma caminhonete com 50 quilos de explosivos, fazendo com que ela atingisse um
quartel do Exército, matando um soldado e ferindo outros seis.
No
mesmo mês, uma passeata que reuniu mais de 100 mil pessoas, organizada pelo
movimento estudantil, mas contando também com a participação de setores da
Igreja e da sociedade civil, tomou as ruas do Rio de Janeiro para protestar
contra a ditadura. Embora dois estudantes já tivessem sido mortos em confrontos
com a polícia durante aquele ano, o clima da chamada Passeata dos Cem Mil
esteve mais para o festivo. Uma chuva de papel picado caiu sobre os
participantes do protesto e cinco estudantes acabaram presos.
A
partir daí, no entanto, houve um crescendo de confrontos cada vez mais
violentos. Uma greve de operários em Osasco, na Grande São Paulo, fez com que a
cidade fosse sitiada durante seis dias pelos militares, a partir de 16 de
junho. Em outubro, novos confrontos envolvendo facções da direita e da
esquerda, dessa vez entre os estudantes, degringolaram em uma batalha campal
entre alunos da Universidade Mackenzie e da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo, ambas localizadas no centro de São Paulo.
A
coisa começou com meras agressões verbais entre esquerdistas da USP e
anticomunistas do Mackenzie, mas a escalada da briga passou a contar com
rojões, paus, pedras, coquetéis molotov, vidros com ácido sulfúrico e até tiros
– um estudante do lado da USP acabou morrendo. No mesmo mês, o congresso (clandestino)
da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna, São Paulo, foi invadido pela
polícia, que levou para a cadeia cerca de 900 estudantes. Os pais dos jovens
presos, alguns dos quais funcionários públicos, também foram perseguidos pela
repressão.
Os
desafios ao regime militar, contudo, também tinham uma cara institucional: a do
deputado Márcio Moreira Alves, para ser mais exato. Membro de um Congresso que
ainda se considerava independente, Alves criticou em termos duros e irônicos a
repressão aos movimentos de oposição e chegou a sugerir que as jovens
brasileiras não namorassem mais oficiais do Exército.
O
governo militar respondeu à polarização do país e ao gracejo de Alves esmagando
o que restava das liberdades civis no Brasil – não sem uma última resistência
do Congresso, que se recusou a suspender a imunidade parlamentar do deputado a
pedido das autoridades. Em 13 de dezembro, o Ato Institucional número 5
concedeu poderes praticamente ilimitados ao presidente da República para
dissolver o Congresso, retirar direitos políticos e civis de dissidentes e até
confiscar seus bens. “Salvamos a democracia”, declarou o presidente Arthur da
Costa e Silva na televisão. O deputado Alves foi cassado após o AI-5 e
exilou-se.
A
repressão, no entanto, só conseguiu fazer com que a oposição clandestina e
violenta no Brasil recrudescesse, pelo menos por algum tempo. Guerrilhas
urbanas e rurais tentaram, sem sucesso, contra-atacar os militares no fim dos
anos 60 e começo dos anos 70. Todas elas foram derrotadas, mas a mística que
surgiu em torno da resistência brasileira à ditadura em 1968 acabaria virando o
modelo da luta pela redemocratização do país.
Post-scriptum:
Fizeram a revolução comportamental
"O
regime militar no Brasil estava procurando um pretexto para se fechar antes de
1968, antes que houvesse um acirramento da contestação entre os jovens ou o
surgimento das guerrilhas de esquerda. O fato é que, dentro do regime, havia
duas forças em luta. Uma era mais liberal. Já a outra preferia o fechamento. A
chamada linha dura acabou ganhando. Por isso, o Ato Institucional 5 teria
acontecido de qualquer jeito, mesmo se não houvesse protesto nenhum em 1968.
Aquela geração tinha um voluntarismo muito grande, um espírito de ‘quem sabe
faz a hora, não espera acontecer’.
Evidentemente,
isso não aconteceu. A idéia de que haveria uma revolução, que de uma hora para
a outra o mundo ia virar de pernas para o ar, estava errada. Eles não fizeram a
revolução política. Mas acabaram fazendo a revolução comportamental. Não é por
acaso que os ideais de solidariedade, de levar em consideração as minorias –
por exemplo, os movimentos sociais, os movimentos gay, feminista e ecológico –,
muito presentes atualmente, são conquistas que começaram em 1968. Essa é a
grande herança positiva para a geração atual. Mas há também um legado maldito
que a geração de 1968 deixou para os jovens atuais. O principal é a ilusão de
que as drogas fossem um instrumento de ampliação da consciência, quando, na
verdade, eram a morte."
Fonte de Pesquisa
·
1968
– O Ano Que Abalou o Mundo, Mark Kurlansky, José Olympio Editora, 2005
Quadro
completo dos principais acontecimentos do ano fatídico no mundo todo, com
detalhes interessantes sobre os países do bloco comunista. Falta só uma
cronologia.
·
Boom!, Tom Brokaw,
Random House, 2007
O
autor examina a geração de 1968 no contexto dos anos 1960. Há ótimos
depoimentos de famosos e anônimos em primeira pessoa, mas apenas americanos
falam.
·
1968
– O Ano Que Não Terminou e 1968 – O Que Fizemos de Nós, Zuenir Ventura,
Planeta, 2008
Zuenir
lança uma caixa com os dois livros: o primeiro, lançado há 20 anos, e o
segundo, inédito – este traz uma avaliação, quatro décadas depois, dos efeitos
de 1968.
Vídeos
§
Pra
não dizer que não falei das flores (Geraldo Vandré): https://www.youtube.com/watch?v=A_2Gtz-zAzM
§
O
Ano de 1968 - Aula ao Vivo de Atualidades | Descomplica: https://www.youtube.com/watch?v=WcglwRGZQJw
BIO
Thiago
Muniz é colunista do blog "O Contemporâneo", do site Panorama
Tricolor, do blog Eliane de Lacerda e do blog do Drummond. Apaixonado por
literatura e amante de Biografias. Caso queiram entrar em contato com ele,
basta mandarem um e-mail para: thwrestler@gmail.com. Siga o perfil no Twitter
em @thwrestler.









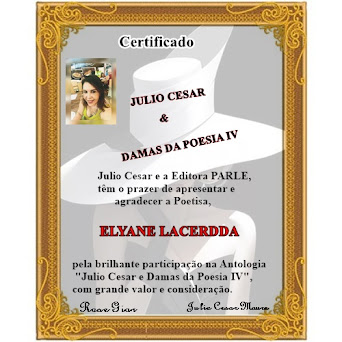










0 comentários:
Postar um comentário